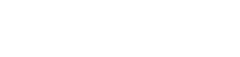As mãos de Givanilda Lopes, 53 anos, são calejadas porque ela mesma, com paciência e determinação, colocou uma a uma as pedras de cerâmica de sua casa, localizada na Rua Ilha do Temporal, na Vila Esperança, comunidade periférica da zona norte do Recife. Foram necessários 33 anos para que a manicure pudesse fazer as melhorias necessárias no imóvel para chamá-lo de “seu”. Porém, no último dia 18 de março, encontramos dona Gil tentando salvar o que era possível de sua casa, entre os parcos itens estavam caixas de descarga, portas, janelas… um a um os itens foram sendo retirados com ajuda de amigas/os da vizinhança às pressas pois a Prefeitura do Recife havia estipulado um prazo: a partir da meia noite daquela data sua casa estava condenada a vir ao chão.
O cenário de desolação e destruição na Vila Esperança, que é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) desde 1994, lembra a atual paisagem da Faixa de Gaza, que sofre violenta ofensiva do sionismo israelense. Em vila a ameaça vem através do mais puro sumo concentrado do que se tornou a cidade do Recife nos últimos anos: um lugar que anula pessoas e memórias através da lógica da gentrificação. Há pelo menos 10 anos a PCR retomou o projeto de construção do viaduto/ponte Iputinga-Monteiro, que recebeu o nome de “Engenheiro Jaime Gusmão”. A obra, que desde a gestão João da Costa (PT) estava orçada em R$ 42,8 milhões, foi paralisada devido a irregularidades e retomada em 2016 pelo então prefeito Geraldo Júlio (PSB). Será inaugurada ainda este ano pelo atual gestor do Recife e pré-candidato a reeleição João Campos (PSB). Pelo menos 255 famílias estão sendo despejadas para dar lugar a passadeira de concreto.

“A gente não teve opção nenhuma aqui. Decidiram por nós. A PCR fez da gente gato e sapato, ou vendia a casa no preço que eles consideravam como válido ou ficava na rua. Eu tenho dois filhos, sou mãe solo e ainda cuido do meu sobrinho, no terreno de minha casa ainda agrego minha irmã e meu ex marido. Meu filho mais velho é PCD (Pessoa com Deficiência), e aí, como fica?” indaga Dona Gil, como é conhecida pelos vizinhos e amigos. Ela integra os 50,8% do contingente de mulheres brasileiras que são “arrimo” de família, ou seja, são chefes de seus lares e esteio socioeconômico de seus núcleos, segundo estudo apresentado em 2023 pelo Boletim Especial 8 de Março do Departamento Intersindical de Estatísiticas e Estudos Econômicos ( Dieese ) com dados do IBGE. São pelo menos 38,1 milhões de lares que reconhecem a mulher como responsável principal do ambiente doméstico, desse montante cerca de 21 milhões liderados por mulheres negras, que representa 56,5% do total.
A pesquisa do Dieese joga luz sobre outra questão a considerar: se elas são maioria à frente das famílias brasileiras também o são na taxa de desemprego. Pelo menos 64,5% estão fora do mercado de trabalho. E as que trabalham ganham em média 21% menos que os homens, ainda que exerçam cargos iguais. As famílias monoparentais com chefia feminina representaram 14,7%, ao passo que esse mesmo arranjo familiar com homens à frente não passou de 2,3%. As desigualdades de gênero, raça e classe social são mais uma vez evidenciadas através dos percentuais apresentados pelo boletim.
Sobre apagamentos históricos e responsabilidades nunca assumidas
A mega obra da PCR desconsidera um fator geralmente invisibilizado pelas grandes corporações e que é um retrato do que acontece nos despejos forçados de famílias de seus territórios de origem: Não há qualquer consideração à dimensão dos afetos que naturalmente constitui as relações comunitárias. E, se esta dimensão não é um direito estabelecido, com normas e leis a cumprir e sansões para responsabilizar descumprimentos, os poderes constituídos se sentem desresponsabilizados em levar tais subjetividades em conta.
Mas uma hora a conta chega como num efeito boomerang: as consequências do desprezo à dignidade humana em todas as suas nuances se tornam problemas futuros de responsabilidade integral dos governos. Um exemplo emblemático é Itacuruba, município do sertão pernambucano que foi completamente submerso devido a construção de uma hidrelétrica no local em 1988. As/os moradoras/es foram removidas/os para um outro território, descaracterizando suas construções e legados tanto materiais quanto subjetivos. A população recebeu moradias novas, porém não lhes foi dado poder de decisão, tudo na “Nova Itacuruba”, como foi rebatizada a nova cidade, é fruto de uma construção artificial, em todos os sentidos: ruas, igreja, imóveis. A Nova Itacuruba é um lugar inventado, que foi planejado por forças externas. Resultado: A cidade é marcada pelo alto índice de depressão, o dano individual aqui é multiplicado ao longo do tempo até tornar-se uma grande chaga coletiva fincada em um território geográfico específico, uma massa populacional caracterizada pela tristeza profunda, dependente de medicamentos tarja preta e tratamento com acompanhamento clínico. E é aí que esse tipo de ocorrência se torna um caso de saúde pública, se voltando para as gestões executivas: efeito das decisões tomadas em gabinetes fechados, por quem não tem qualquer relação com os circuitos das relações coletivas que são engendradas a partir da vivência comunitária de cada povo.

Dona Gil revelou que depois que começaram as obras, e consequentemente os despejos, tem enfrentado um quadro de adoecimento com hipertensão arterial e depressão: “Eu estou tomando remédio para pressão e para depressão. Não durmo direito desde que essas máquinas chegaram por aqui”. As tais máquinas citadas pela mulher são as retro escavadeiras e tratores que operavam no local no dia em que ela concedeu esta entrevista. De repente, no meio do nosso diálogo, que acontecia no canto da rua de frente para sua residência ( único local possível de se conversar, uma vez que a sua casa já estava sem fornecimento de energia elétrica por conta do aviso de demolição) um dos equipamentos avança sobre a rua que naquele instante ficara insuportavelmente estreita: não cabia ali nós e a máquina de tratorar, não era possível um convívio, mesmo que momentâneo entre gente e equipamento. O barulho rouco daquela retroescavadeira tomou conta de nossos ouvidos e já não era possível conseguir falar nem ouvir o que nos contava Dona Gil. Sem pedir licença o veículo manobrou sem constrangimento avançando sobre o ponto em que estávamos. A pressa e o progresso não enxergam mesmo as pessoas, nos levantamos das cadeiras de plásticos, nos amontoamos mais para o canto, saímos daquela área meio sem saber onde nos recolocaríamos novamente para continuar a conversa. Mas Dona Gil continuou a nos contar e nos mostrar o que faz o capitalismo tardio: ele destrói, silencia e constrange.


No dia seguinte à visita de nossa equipe, Dona Gil, que está abrigada na garagem de uma amiga com seus dois filhos e mais um sobrinho, esteve em vila e falou em alto e bom som, não para as máquinas mas para os sete homens que trabalhavam no terreno da obra e que se mantiveram calados e de costas para a moradora, como se não fosse com eles. A mulher avançou sem medo e se colocou firme diante do grupo: “Passei fome, quando eu não tinha dinheiro, para botar a cerâmica da minha casa eu me sentava no chão, agora vem destruindo tudo desse jeito por causa da bexiga duma ponte? Tirou meu sossego, tirou minha paz”, desabafou a mulher em prantos amparada pela família. Do outro lado apenas o som seco das marretas quebrando a casa de Gil, enquanto os prédios de alto luxo que circundam a comunidade assistiam, cúmplices, em silêncio.